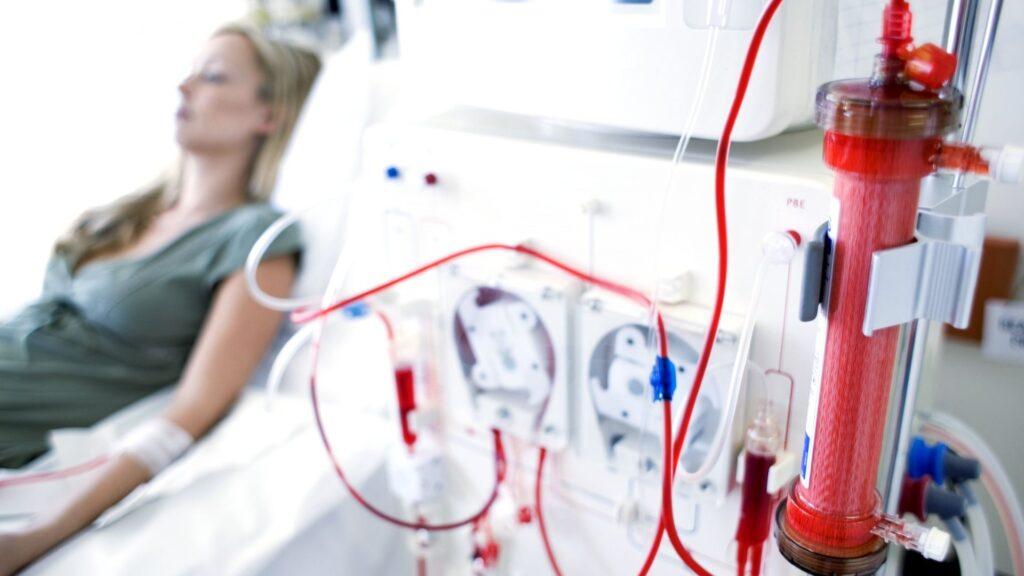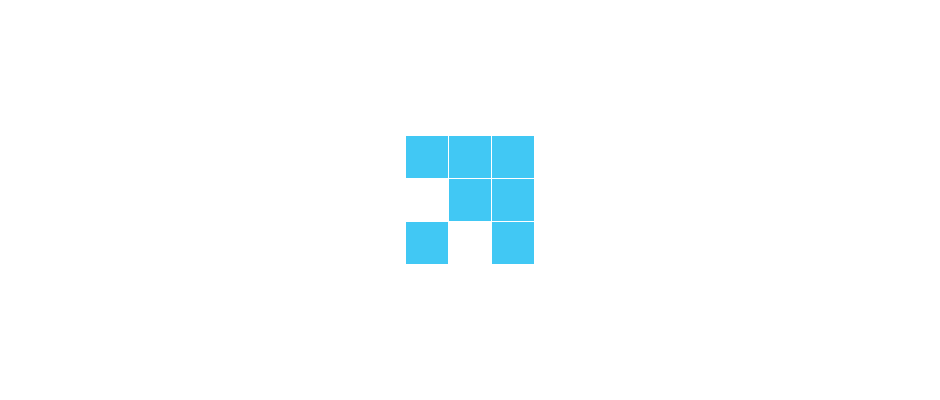Como é pesquisar na Amazônia: entrevista + roteiro da expedição
Pesquisadora do Einstein conta detalhes sobre trabalho inédito que avaliou dor dos indígenas na maior floresta tropical do mundo
Por Fábio de Oliveira, da Agência Einstein
Um território de 4.196.943 milhões de km², onde crescem 2.500 espécies de árvores, um terço de toda a madeira tropical do mundo, e 30 mil espécies de plantas, das 100 mil da América do Sul. A bacia hidrográfica é a maior do planeta: 6 milhões de km² e 1.100 afluentes. O principal rio, o Amazonas, lança no Oceano Atlântico cerca de 175 milhões de litros d’água a cada segundo. Esses números superlativos divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente mostram a dimensão monumental da Amazônia. Pesquisar nessa região do país é um desafio, não só pelo tamanho do território, mas também pelas questões de logística e burocracia. É o que relata a pesquisadora Eliseth Leão, do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Ela orientou o mestrado de Elaine Moraes, de Manaus, Amazonas. A enfermeira e docente resolveu estudar como os povos indígenas lidam com a dor. Um trabalho inédito. Saiba mais na entrevista abaixo:
Qual é a principal dificuldade para se pesquisar na Amazônia?
O tempo, a distância e a natureza. Esses três aspectos é que balizam as pesquisas naquela região. É necessário tempo, tanto para chegar lá quanto para ficar em campo, para que haja uma integração e permita o levantamento dos dados de forma respeitosa em outra cultura. O tempo do índio não é o nosso e nós precisamos nos adequar. Em segundo lugar, a distância, pois isso implica não só disponibilidade, como recursos financeiros para poder acessar as aldeias. Combustível naquela região é escasso, caro e muito cobiçado. Requer consciência de que estamos distantes de qualquer recurso a que estejamos acostumados em nossas vidas urbanas, principalmente a dos grandes centros. Por fim, a natureza, que influencia de forma soberana nos deslocamentos, principalmente fluviais. É possível navegar somente enquanto há luz. Dessa forma, é preciso conhecer as vazantes e cheias dos rios, os riscos naturais encobertos pelas águas e fora delas. Não há energia elétrica. A natureza também dita o tempo da coleta dos dados e os indígenas a seguem em perfeita integração para executar suas atividades do dia a dia em um ciclo de 24 horas, delimitando qual o horário mais apropriado para dar atenção aos pesquisadores. Mas tudo vale a pena, pois é uma experiência enriquecedora e transformadora. Os pesquisadores têm um papel social muito importante para trazer à tona questões que a nossa sociedade desconhece ou trata superficialmente.
Quais foram os maiores desafios?
Foram vários. A começar pelo itinerário documental, trabalhoso, mas necessário, que passa pela obtenção das autorizações junto às lideranças indígenas de cada etnia, depois junto à Associação que representa as etnias. Após essa etapa, o trâmite de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Einstein e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), em Brasília, por se tratar de pesquisa com indígenas que atende à regulação específica. E depois da aprovação da Conep, a submissão à Fundação Nacional do Índio (Funai) para autorizar o ingresso em terra indígena. Em campo, as barreiras do idioma, pois mesmo tendo um tradutor, em muitas situações as questões sobre a dor e seu tratamento tinham que ser repetidas durante a entrevista.
Esta foi sua primeira experiência como pesquisadora na Amazônia? Quais foram suas principais impressões?
Sim, essa foi a minha primeira experiência lá. Iniciei minhas pesquisas na área de dor há mais de 20 anos e sempre quis saber sobre como os indígenas manejavam a experiência dolorosa. A oportunidade surgiu com uma aluna do mestrado, que é enfermeira e docente em Manaus, a Elaine Moraes, que é apaixonada por saúde indígena e queria estudar algo nessa linha. Embora ela tivesse maior contato com alunos de algumas etnias, também desconhecia o perfil de dor, bem como o tratamento tradicional para o seu controle. Imaginem: nos grandes centros urbanos a dor é negligenciada em muitos serviços públicos. Indagávamos como seria em regiões remotas do país e com menos acesso a medicamentos analgésicos. O fato de não ter estudo específico sobre a dor dos indígenas brasileiros também nos motivou, pela oportunidade de desenvolver algo inédito. Foi um casamento perfeito de interesse científico em que pudemos aprender bastante uma com a outra.
Segundo dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região Norte do país concentra 305.873 dos 817.963 indígenas do Brasil
Por que decidiu acompanhar o trabalho in loco?
Por diversas razões. Como disse, tratava-se do envolvimento de uma aluna de mestrado, portanto, uma pesquisadora em início de formação, e conduzir um estudo de natureza etnográfica poderia configurar dificuldades adicionais para alguém no começo da trajetória científica. Por outro lado, necessitávamos angariar recursos financeiros para realizar a expedição científica, o que fez com que a ideia inicial tivesse que ser aprimorada em um projeto mais abrangente para submissão à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e assim o construímos a quatro mãos. Os dados do projeto coletados no Vale do Javari, juntos às etnias Matis, Kanamary e Marubo, constituíram a dissertação de mestrado defendida pela Elaine em maio deste ano, mas isso não encerrou o estudo. Parte dos dados ainda está por ser coletada em uma próxima expedição científica.
Além disso, não se tratava também de uma questão ligada só à responsabilidade sobre o projeto de maneira geral, mas, sobretudo, sobre as pessoas que estariam envolvidas na sua execução, principalmente a Elaine. Não teria como dormir tranquila sabendo que ela estaria a 500 km selva adentro, inclusive por questões de segurança. E, finalmente, tínhamos previsto, ainda no projeto, a obtenção de registros fotográficos etnográficos que pudessem se relacionar a potenciais fatores relacionados à dor. Como também sou fotógrafa, fiquei responsável pela execução dessa atividade. O projeto foi desenhado de forma robusta, pois sabíamos que teríamos a barreira do idioma e precisávamos nos cercar de mais de uma técnica de coleta de dados, o que seria impossível de ser realizado por uma única pesquisadora no período destinado ao trabalho de campo.
Você já tinha tido uma experiência semelhante?
Não, embora atue há muitos anos na área de dor, com a pesquisa etnográfica não, por isso foi um grande aprendizado também para mim, tanto sob o ponto de vista científico, como pessoal pelo contato com essas etnias. Já tinha visitado algumas no Panamá e no Brasil, mas em uma perspectiva mais cultural, nunca em um esquema de imersão para gerar conhecimento científico.
Como vocês escolheram os grupos indígenas que fariam parte do estudo? E por que esses grupos especificamente?
Escolhemos inicialmente duas regiões: São Gabriel da Cachoeira no Alto Rio Negro e o Vale do Javari, no Amazonas. O primeiro município foi selecionado por abrigar a maior população indígena do Brasil e a segunda região, por concentrar os indígenas de recente contato, que, segundo a Funai, são povos ou grupos indígenas que mantêm relações de contato permanente e/ou intermitente com segmentos da sociedade nacional e que, independentemente do tempo de contato, apresentam singularidades em sua relação com essa sociedade e seletividade (autonomia) na incorporação de bens e serviços. São, portanto, grupos que mantêm fortalecidas suas formas de organização social e suas dinâmicas coletivas próprias. Imaginamos que nessa região o conhecimento ancestral indígena para controle da dor pudesse estar mais preservado. Optamos por iniciar pela área mais remota e de difícil acesso, o Vale do Javari, e em todas as etnias visitadas fomos muito bem acolhidos.
Entretanto, lidamos agora com alguns ajustes no projeto, pois estamos estudando onde vamos realizar a segunda etapa do estudo, tendo em vista algumas dificuldades para obtenção das autorizações das lideranças indígenas, no alto Rio Negro. Estamos trabalhando também para obter o engajamento de outras etnias da Amazônia e assim solicitarmos a anuência da Conep e da Funai para essa nova etapa.
Quais foram os principais resultados do estudo?
Identificamos que 73% dos 45 indígenas que participaram do estudo tinham algum tipo de dor no corpo no momento da entrevista, principalmente de natureza musculoesquelética. As dores descritas como “queimação” foram predominantes, assim como as intensidades fortes e fracas. O fator de melhora mais relatado foi a utilização de Medicina Tradicional Indígena. No caso, o remédio do índio, feito de acordo com os costumes de cada tribo e ervas, rituais e música, e o remédio do mato, a partir de extratos da natureza como raízes e folha. O fator de piora da dor mais referido foi o trabalho na roça. O sono e as atividades diárias foram as áreas mais impactadas pelas sensações dolorosas.
A medicina indígena está preservada?
Observamos que a utilização e conhecimento da Medicina Tradicional Indígena está parcialmente preservada nas três culturas estudadas, em proporções diferentes conforme a idade dos indivíduos e a proximidade da sociedade não indígena. Além disso, foi evidenciado que o perfil dos profissionais de saúde que atendem aos indígenas é composto de um grupo com pouca experiência e sem preparo acadêmico adequado para atender a essa população, inclusive no que tange à dor. Isso implica levarmos essa discussão para as instituições de ensino superior na saúde em busca de soluções a médio prazo. Como resultado do estudo ainda foi elaborada uma cartilha com intuito de formar uma ponte que facilite o diálogo entre os indígenas e os profissionais de saúde. Nela constam conceitos básicos sobre dor e sua avaliação, bem como o perfil de dor encontrado pelo estudo e as formas de manejo realizadas pela população indígena. Essa cartilha se encontra em fase de tradução para o idioma indígena para posterior distribuição para os profissionais de saúde e lideranças das etnias estudadas.
Acredita que nós, brasileiros, precisamos estudar mais todos os aspectos dessa região? De plantas que podem conter substâncias para novos remédios até a cultura indígena?
Sem dúvidas poderíamos aprender muito com o conhecimento que os indígenas carregam com eles. A floresta é o quintal da casa deles e de lá eles manejam não só a dor, mas uma série de outros desconfortos relacionados à saúde. Sabemos que muito há por ser pesquisado na floresta. Sabemos também que existe biopirataria e que temos sido ineficientes em contê-la. Temos uma dívida para com os nativos brasileiros e responsabilidade enquanto sociedade sobre seu futuro. Desconhecemos sua cultura. Cada etnia tem a sua, com sua cosmovisão, línguas que estão se perdendo e com ela a identidade de seus povos. Eles e a natureza são um só. Eles vivem em profunda conexão com ela, basta estar lá para vivenciar isso. Portanto, buscam naturalmente práticas sustentáveis, pois sabem que dela depende a sua sobrevivência, a dos seus filhos e netos, algo que, ao que parece, cada vez mais nossa sociedade, para além do discurso, quando ele existe, vem esquecendo.
O roteiro do estudo amazônico
Da elaboração do plano às entrevistas com os indígenas nas aldeias, veja como foi realizada a pesquisa do Einstein
O planejamento
- Levou um ano, dando ênfase aos seguintes aspectos:
- recursos humanos e financeiros – na equipe fixa, sete pessoas (dois piloteiros, dois de apoio logístico, a orientadora Eliseth Leão, a orientanda Elaine Moraes, um antropólogo da região, guias e tradutores das três etnias.
- tipos de transporte necessários – aéreo para São Paulo-Manaus-Tabatinga/Manaus-SP;
barco: Tabatinga- Atalaia do Norte – Aldeias Bukuak – Tawaya e São Luis)
- Equipamentos e insumos – barracas de acampamento, colchonete, saco de dormir, lanternas, mochilas, geladeira térmica, kit de cozinha, alimentação não perecível, água mineral, pilhas, inversor de corrente elétrica (para carregamento a partir do motor do barco), repelentes contra insetos, equipamento fotográfico, gravador, combustível para o retorno (os galões azuis em cima do barco)
Cálculo do itinerário:
Fluvial: 3.253 km navegando na região (rios Branco, Itaquai, Itui, Javari e Solimões)
São Paulo — Manaus (em linha reta): 2689 km
Manaus – Tabatinga: 1107 km
Cálculo da autonomia da embarcação e do combustível necessário a ser levado, tendo em vista a distância a ser percorrida para garantir o retorno, uma vez que não existem postos de gasolina).
- plano de avaliação de riscos, prevendo medicamentos, equipamentos de proteção individual para deslocamentos no mato (evitar picadas de cobra, por exemplo)
- dois piloteiros (práticos, conhecedores de acidentes hidrográficos) muito experientes em navegar na região e outros dois profissionais com vasta experiência em logística na selva
- apoio de um guia, o indígena Turu Matis, e um antropólogo da região, Kell Wadick.
- um telefone satelital para casos de emergência
- um rastreador de localização geográfica, dentre outros procedimentos de segurança
- Eliseth Leão, orientadora da pesquisa, e Elaine Moraes, autora do estudo, tinham qualificações adicionais, como cursos militares de sobrevivência na selva e de navegação
A expedição
- Eliseth Leão partiu de São Paulo para Manaus. De lá, ela e Elaine, que mora em Manaus, foram de avião para Tabatinga, no interior do Amazonas. A embarcação delas saiu de Manaus já com todos os suprimentos e as pegou em Tabatinga.
- De lá elas foram para Atalaia do Norte, onde armazenaram metade dos suprimentos para que pudessem navegar com menos peso, tendo em vista que isso influencia no consumo de combustível e velocidade durante a navegação. Isso porque os trajetos fluviais para acessar as aldeias Matis e as Kanamary são bastante distintos partindo de Atalaia do Norte.
- Após dois dias e meio de navegação, dormindo às margens de rios e enfrentando calor e muitos insetos, mais o fato de ser uma região com perigos próprios, território dos Korubo (os índios caceteiros), onde foram registrados incidentes com madeireiros, a equipe chegou à primeira aldeia Matis, a Bukuak, cujo acesso só pode ser feito com canoa a remo e, em seguida, a pé.
- Desse local, o time partiu de canoa peque-peque (que tem um pequeno motor) para outra aldeia Matis. Para o acesso à Aldeia São Luís, da etnia Kanamary, a equipe saiu novamente de Atalaia do Norte em condições semelhantes à viagem anterior.
- Devido a condições logísticas e orçamentárias, não foi possível acessar aldeias mais distantes da etnia Marubo. “Necessitaríamos de deslocamento em pequena aeronave não prevista”, diz Eliseth. Foram colhidos dados em uma comunidade próxima à Atalaia do Norte, com o suporte do indígena Clovis Marubo para o acesso, realizado em três motocicletas. A equipe foi acompanhada também pelo indígena Darcy Marubo.
(Fonte: Agência Einstein)